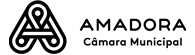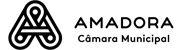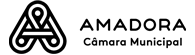Texto cedido pelo Centro de Documentação 25 de Abril - Coimbra
A última lição tem o sabor e o travo, a incerteza e a responsabilidade, de uma primeira lição. Ao findar tudo recomeça. Este final de exercício não é a resignação à inactividade. Pode ser, deve ser, o começo de novos trabalhos. O passo inicial de uma aventura contra o regimento oficial e contra o tempo. A qual — e esse é o drama está condenada, por leis inexoráveis, a ser uma aventura breve. É preciso, portanto, vivê-la depressa. Sofregamente, talvez.
Quer isto dizer — situando-me na fronteira de risco que separa as intenções das realizações —, que parto cheio de projectos. Os projectos que, exercendo a docência, não realizei, ou simplesmente adiei. Mas não estou queixoso. Nem do trabalho excessivo, nem das condições adversas. Queixo-me de mim. E de aqui ter chegado tarde, já avançado nos anos, marcado por amargas experiências. Fui feito professor por obra e graça de uma assembleia escolar generosa, no alvoroço de decisões urgentes, efemeramente, radicais. Procurei cumprir na aula e no claustro — estava a pensar na velha Faculdade do Convento de Jesus, perdoai —; actualizemos: procurei cumprir na aula e nos corredores, na docência e na convivência.
Ao ingressar no corpo docente desta casa, à qual, confesso, me considerava ligado, à qual devia uma boa parte da minha formação, não trazia ambições e tinha a consciência de que seria curta a carreira universitária tão tardiamente iniciada. Não me candidatei à docência universitária; não teria tido essa audácia. Convidaram-me. Aceitei. Como professor auxiliar convidado prestei o meu serviço. Como tal me receberam e respeitaram. Aos alunos e aos colegas, estou agradecido.
Vim de longe; pelo que concerne ao lugar e ao tempo.
Fui aluno da Faculdade de Letras do Convento de Jesus. Aluno irregular e participante de vários cursos. Mas aluno qualificado, relativamente, se tivermos em conta a exigência e a bitola dos mestres de então. De alguns dos professores da escola conservo recordações. Boas e más. É sempre assim. E nesta valorização é larga a margem da subjectividade. Recordo sobretudo os colegas dos vários anos em que frequentei a Faculdade: os vivos e os mortos, os que alcançaram pública fama e os que foram esquecidos. Não cito nomes e não é o, receio das omissões que me cala. B porque sinto, e nesta hora agudamente, como dizia Afonso Duarte, que recordar o passado e sempre um resto, ou pior uma falta de saúde.
Consideremos, todavia, o passado em comparação com o presente e na perspectiva do futuro. Se recordo o ensino dessa escola - a Faculdade de Letras do Convento de Jesus, a nossa escola noutra fase da sua vida —, não posso deixar de reconhecer e de me sentir obrigado a proclamar que a História nos deve a alguma coisa. Nós — é abuso. E nos outros que penso. Revejo a turma de investigadores e de estudiosos que ali se formou e dali partiu — Julião Soares de. Azevedo, Virgínia Rau, Joaquim Barradas de Carvalho, esses partiram para longa viagem, mas, muitos foram os que trouxeram do ensino-magistral e do contra-ensino claustral, a lição dos professores completada ou contestada no debate livre e rebelde dos corredores, a decisão de, contra a corrente, operar a renovação crítica da cultura histórica e da produção historiográfica em Portugal. Preocupava-nos a dilatação cronológica e o alargamento do horizonte dos estudos de História. Emancipar a História da coabitação com a História da Filosofia e a Psicologia positivista; fazer a História galgar séculos, aproximar-se do nosso tempo, vencer os Ver imagem da página do documento original "cabos das tormentas" da Expansão e o balanço dos sucessos políticos e militares da Restauração. Os séculos XVIII e XIX deveriam ser objecto de estudo, temas de ensino. Não o eram na velha Faculdade de Letras.
A situação — reconheço-o com aprazimento — era diferente em 1974-1975. Em reuniões entusiásticas intentou-se modernizar o curso. Por mim animava-me a boa intenção — de bem intencionados, eu sei, estão cheios os infernos do céu e da terra, os teológicos, os políticos, os pedagógicos —, de imprimir empenho pessoal à criação, no âmbito do curso de História e tendo em conta a pluralidade de opções então existente, de unidades de estudo que respondessem às questões: Que é Portugal? Qual a realidade histórica e a caracterização política, económica e social do regime do "Estado Novo" que era o colonialismo português, o que foi, como foi, a descolonização portuguesa?
Para que a Faculdade desse resposta a estas questões apresentei, no lugar e momento próprios, propostas para que se introduzisse, no elenco curricular, uma cadeira e se oferecessem aos estudantes, como opções, no conJur1to dos seminários que deviam frequentar, dois novos: um dedicado à "Descolonização", o outro ao estudo da "Origem e Evolução do Regime Fascista em Portugal". 0 primeiro — sobre o tema "Descolonização Africana" — informou umas dezenas de alunos. Pelo segundo, ao longo dos anos que durou, terão passado para cima de duas centenas de alunos que produziram trabalhos de pesquisa histórica e interessantes interpretações de aspectos sectoriais ou globais do regime salazarista. As sessões do seminário tinham como objecto vocacionar os que o frequentavam para o estudo da História contemporânea — história política, económica e social, da cultura e das mentalidades.
Quanto à cadeira proposta e que durante vários anos esteve inscrita no programa do primeiro ano do curso, essa, como eu a concebia, deveria ter por título: '1Introdução a Portugal". Mas o título vicissitudes do radicalismo do tempo e da fortuna das ideias foi alterado para "Introdução a Portugal Contemporâneo", e posteriormente 1 para "Introdução a Portugal Actual". Claro que nem a 'Icontemporaneidade", em sentido estrito, nem a "actualidade", que, bem vistas as coisas representava uma concessão, um recuo perante a classificação escolar dos tempos históricos — Antigas Idades, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea —, vinha frustrar a minha original intenção: a de propor aos estudantes, no início do curso de História, uma reflexão sobre o País, a Nação que somos. Que a uma meditação critica da identidade nacional fossem acrescentadas noções de geografia, de economia e de sociologia que permitissem a leitura do Portugal coetâneo, que proporcionassem uma mais profunda elucidação dos problemas portugueses do nosso tempo, compreendidos na dialéctica das continuidades e descontinuidades históricas, não me desagradava, todavia não era propriamente a propedêutica histórico-sociológica, ou geo-histórica, do presente nacional, o directo objecto da minha proposta. Eu entendia, e entendo, que faz falta no curso uma introdução a Portugal", uma unidade lectiva que considere Portugal — estes oito séculos e meio de História —, como um problema histórico.
Não importava, com pressa cívica e por vício de estrangeirado, a problemática espanhola — Espanha como problema, Espanha sem problema — para um quadro cultural português. Não estava sob a influência e a sugestão da polémica entre Claudio Sanchez-Albornoz ("España, un Enigma Histórico") e Américo de Castro ("La Realidad Historica de España) — Situava-me, sim, na linha prospectiva e na confluência de indagações e saberes que tinha recolhido de autores como Garrett, Herculano, Antero de Quental, Oliveira Martins, Alberto Sampaio, Basílio Teles, Sampaio Bruno, José Leite de Vasconcelos, o António Sérgio, da "Introdução Geográfico-Sociológica à História de Portugal", o Jaime Cortesão, dos "Factores Democráticos...", o Orlando Ribeiro, de "Portugal., o Mediterrâneo e o Atlântico", e das páginas de estimulante e "Introduções Geográficas à História de Portugal". E nessa diligência problematizadora, ao tempo medieval referida, não viríamos a ter, uma dezena de anos mais tarde sobre a data da minha incompreendida proposta, a obra celebrada de José Mattoso: "Identificação de um País". Ensaio sobre as Origens de Portugal, 1096-1325.
A liquidação histórica do império suscitou o problema de problematizar a identidade nacional. Problema falso em nosso juízo, mas ao qual há que dar resposta política e cultural em termos históricos. A formação, de uma consciência histórica da identidade nacional, implica o conhecimento da constituição e da evolução de uma entidade social (nacional) com um espaço, um território geográfico definido, uma posição no mundo, nos mundos, no sistema das relações comerciais, culturais. A história de Portugal insere-se numa teia de relações. E o mesmo sucede com os outros países. O que eu visava, ao propor uma unidade lectiva designada "Introdução a Portugal", era dessa teia, desse entrecruzar de influências, extrair elementos e razões para construir, sem suficiência e sem arrogância patrioteira, uma consciência histórica da realidade nacional. Um país não deve isolar-se. Um país tem de se conhecer. E de se conhecer no tempo que evolui à escala humana e no mundo que mais lentamente, com um tempo de outro ritmo e duração, se modifica. Impõe-se reflectir, criticamente, sublinho, no problema histórico-sociológico da identidade nacional. Pensar, reconsiderar, as relações entre a nação que se constituiu, e o território que a acção humana irá modelando. Do espaço e da história dos homens e das coisas, nos falou mestre Fernand Braudel na obra póstuma "L'identité de la France". Não que Fernand Braudel quisesse resumir a França "a um discurso, a uma equação, a uma imagem, a um mito". Recordemos que em relação à Espanha, Braudel contestou as explicações redutivas à essência, a um ideário, a um corpo invertebrado, de Miguel Unamuno, de Angel Ganivet, de Ortega y Gasset. A França, para Braudel, era uma história que se organizava em profundidade, com os seus impulsos próprios e inserida nas correntes do mundo. Passado e presente, revistos, repensados, à luz da geografia, da demografia, da economia, da cultura. Tudo considerado no seu desenvolvimento e complementaridade e na acção recíproca dos vários factores. A história — como escreveu Braudel "convidada a abandonar as quietudes do retrospectivo pelas incertezas da prospectiva".
Conhecermos Portugal — e não só as "quietudes retrospectivas" — mas a história dos tempos revoltos nos quais se geraram os problemas do nosso próprio tempo, terá sido a razão de me ter debruçado, ao concluir o curso, sobre a questão do trânsito histórico do "Antigo Regime" para o Portugal moderno, oitocentista, Só por fixação classificativa, designado por contemporâneo. Forjar as portas do Século XIX, esse território histórico que o ensino ministrado na velha Faculdade não contemplava, uma área interdita só devassada no domínio da história literária, terá sido a atitude subversiva, nos Anos 40, do Julião Soares de Azevedo, que, jovem licenciado, deu à estampa um livrinho intitulado: "Condições Económicas da Revolução de 1820". Cerca de vinte anos mais tarde publicámos a "Geografia e Economia da Revolução de 1820". O Século XIX era um território inexplorado.
No que nos diz respeito, não tendo tido a possibilidade de desenvolver uma investigação sistemática, de quando em vez a ela temos regressado. Há três anos para responder a um convite do Professor João Medina que nos pediu para escrever os capítulos de abertura da História Contemporânea de Portugal que planeou e dirigiu, capítulos que por motivos de natureza editorial, aguardam a sorte do projecto; ultimamente, e por imperativo do trabalho docente que nos foi distribuído, voltámos a ocupar-nos do tema: trânsito do "Antigo Regime" ao "Portugal Liberal" .
Não nos deixemos cair na tentação de percorrer os caminhos de uma história feita a pensar nas circunstâncias da Revolução Francesa, fundamentada no esquema teórico da passagem do feudalismo ao capitalismo, ou reflectida pelos espelhos deformadores de Alexandre Herculano e de Oliveira Martins.
Por outro lado, seria uma igenuidade cometer o erro de fixar o momento histórico da transição. Estamos perante um processo longo, complexo, contraditório, que abrange o governo e
• queda de Pombal, a acção de D. Maria I, a regência de D. João VI
• transferência da Corte para a Brasil, a Revolução de 20, a outorga da Carta, o episódio miguelista, a legislação de Mouzinho da Silveira, a Convenção de Évora Monte. Isoladamente considera dos nenhum destes acontecimentos assinalará o fenecer do "Antigo Regime" e a alvorada dos tempos novos.
Não se terá verificado no processo longo um momento de rotura? Pensamos que sim. E que, justamente, um Alexandre Herculano, um Oliveira Martins, terão contribuído para obscurecer o significado e extensão da rotura que ocorreu, com particular relevância, no que se refere ao sistema político-institucional do "Antigo Regime" e teve as incidências sociais, económicas, culturais que lhe estavam implícitas. Vejamos.
O início da viragem do Portugal antigo para a modernidade há que situá-lo, por contraditório que pareça, nos anos da governação pombalina e nos anos da reacção anti-pombalina. Período conturbado pelas contradições internas e pelas questões internacionais em que o país se encontrava envolvido, esse do reinado de Maria em que lhe sucedeu o filho João no governo dos negócios públicos, primeiro como assessor que a substitui, depois como regente, e só em 1816, falecida a rainha, na plenitude da realeza. São anos decisivos marcados pelo antagonismo entre as diligências de renovação político-cultural e a reacção conservadora, institucional, cultural, religiosa; anos de confronto entre orientações políticas diferentes no que respeita ao relacionamento internacional do país e que seria referência simplificadora a "partido favorável à Inglaterra" — "partido favorável à França", consubstanciam, igualmente, linhas políticas, distintas de política interna. Os acontecimentos de 1789 — na França e no Brasil — serão determinantes, a níveis diferentes, do curso histórico. O ano da Revolução Francesa, foi, também, o ano da "Inconfidência Mineira".
Já foi notado que de 1789 a 1820, que do assalto à Bastilha ao "rompimento" do Campo do Santo Ovídio, decorrem trinta anos. E decorrem quarenta e seis, quase meio século, da data da Independência da América (1776) à data da Independência do Brasil (1822). Afigura-se-nos analogismo mecanicista falar de um atraso histórico do advento da revolução liberal portuguesa. Cada história tem o seu próprio ritmo. No caso do Portugal metropolitano, cuja relação com o Brasil colonial ou reino afim é estreita, determinante, não nos é permitido supor que após a retirada da família real para o Brasil na iminência da entrada em Lisboa das tropas invasoras comandadas por Junot, seja adequado afirmar, como afirmou António Sérgio :"Em Portugal governava Beresford. O descontentamento, dos militares suscitou a conjuração de 1818 (sic), que custou a vida a Gomes Freire. Quando, em 1820, o general inglês foi ao Brasil, o Porto sublevou-se".
A regência, nomeada pelo Príncipe Regente, o futuro D. João VI, por Decreto, de 26 de Novembro de 1807, e cujas regras de funcionamento e da reconstituição, as "Instruções" que acompanhavam o Decreto tinham cautelosamente estabelecido, após a partida dos franceses, ressurgira. O historiador não pode ignorar que logo em finais de 1813 os Governadores, confrontados com .o sentimento público de que se invertera a relação colonial com o Brasil, manifestaram a D. João o desejo geral de que a Família Real regressasse. A documentação conhecida das relações entre a Regência e o Príncipe Regente, entre Lisboa e o Rio de Janeiro, levará à conclusão de que não existia um vazio político-administrativo.
Considere-se, por exemplo, o que se passa com o 'Donativo", votado pelo Parlamento do Reino Unido, a pedido do Marechal General Marquês de Wellington, Duque da Victória, Comandante em Chefe do Exército Aliado, para socorro das devastadas terras de Portugal. Essa verba avultada que se não, deveria limitar, a ser "um mero socorro momentâneo", que se destinava a constituir, uma ajuda "para regenerar do modo possível, os mananciais da prosperidade Pública", seria distribuída por uma comissão luso-britânica, mas a Regência intervém, apoia, emite o expediente legislativo e burocrático necessário. As medidas de auxilio às populações da Beira e da Estremadura, as províncias mais atingidas pela violência e as devastações das tropas de Massena, não se restringiram a aplicação da benemerência inglesa. A Regência toma medidas. Angaria verbas. Distribui subvenções em dinheiro e ajudas materiais. Das elucidativas "Memórias das Principais Providências Dadas em Auxílio dos, Povos" com referência ao período, de Outubro de 1810 a Maio de 1812, constam indicações relativas a 375 medidas de carácter administrativo de nível diverso: Portarias, Ordens, Avisos, Consultas, participações, Memórias, Ofícios, Editais. O "'Ofício" do Intendente Geral da Polícia datado de 23 de Dezembro de 1811, ou a "Ordem Régia" de 6 de Fevereiro de 1812, são bons exemplos da diligência administrativa da Regência. Com as rubricas dos Governadores do Reino são emitidas ordens em nome do Príncipe Regente, mandando o Administrador Geral do Real Erário, o Conde de Redondo, ele próprio Governador do Reino, dispor das quantias recebidas pelo contratador das "Jugadas de Pão, e Oitavos dos Vinhos, e mais Direitos Reais" da vila de Alenquer, para pagar as obras de reparação dos edifícios públicos — Casa da Câmara, Casa do Tribunal, Cadeia e habitação do carcereiro — a dita vila. Se a referência ao Príncipe Regente, nos textos jurídicos e administrativos representa o cumprimento de uma pragmática, a afectação de rendimentos do Erário real a obras locais é plausível que carecesse de expressa autorização, A Regência governa em estreita ligação, com o Príncipe Regente; é em nome de Sua Alteza Real que solicita ao Juiz do Povo de Lisboa o "levantamento" de empréstimos dos habitantes da cidade; desdobra-se em actividades administrativas, na assistência alimentar, médica, sanitária às populações, na distribuição de meios financeiros para custear trabalhos de reparação e de reconstrução e no fornecimento de instrumentos de trabalho. A portaria de 20 de Março de 1811 destinada a remediar as carências de abastecimento das populações da província da Estremadura e a insuficiência da rede comercial, determina que se fizessem Feiras Francas de oito em oito dias, designados os dias pelos Juizes de Fora respectivos, de acordo com as Câmaras.
Associado pelo formalismo legislativo as medidas que a Regência adopta, na realidade, o Príncipe Regente não ficou alheio a este esforço. A Carta Régia, de 26 de Julho de1811, na qual D. João consigna as rendas das alfândegas da Bala, de Pernambuco e do Maranhão, para assistir aos vassalos habitantes das áreas que mais tinham sofrido com as invasões dá testemunho do seu interesse e da sua intervenção. Dispõe o Príncipe: "Tenho resolvido consignar, em cada um ano, e por espaço de quarenta anos, a quantia de cento e vinte mil cruzados, que serão deduzidos das Rendas das Alfândegas, e na sua falta de outras quaisquer, pela maneira, seguinte: Da Capitania da Baía sessenta mil cruzados por ano, da de Pernambuco quarenta mil cruzados, e da do Maranhão vinte mil cruzados; ficando estas quantias inviolavelmente reservadas em cada uma das mencionadas Capitanias, e conservadas em Cofre separado, onde deverão ir sucessivamente entrando no fim de cada trimestre, a principiar em o primeiro de Julho do corrente ano, para serem única e privativamente empregadas em beneficio dos Meus Vassalos, que sofreram tão horrível ruína, já reedificando-se-lhes suas casas, já dando-se-lhes os instrumentos, sementes, e gados, necessários para continuação, de suas lavouras, já restabelecendo-se-lhes as Fábricas, e Casas das Povoações, e Cidades devastadas: E porque na presença de um tão grande mal convém adoptar as medidas mais eficazes, para quanto antes possam cessar suas funestas consequências, vos Encarrego, e muito particularmente vos Recomendo, procureis tirar partido desta soma anual de cento e vinte mil cruzados, diligenciando por todos os meios possíveis, dentro ou fora desse Reino, um Empréstimo de dois milhões de cruzados, a juro de cinco por cento e com um por cento de anuidade para sua amortização, servindo-lhe de hipoteca as sobreditas quantias consignadas em as Rendas das três Capitanias da Baía, Pernambuco e Maranhão, para pagamento do Capital emprestado, e do seu juro, até inteira amortização deste Capital...". Este auxílio destinava-se, também, às "interessantes Fábricas de Alenquer, de Tomar e de Alcobaça". Os Governadores, por portaria de 18 de Janeiro de 1812, cometem ao Barão de Quintela o encargo de receber dos tesoureiros das referidas Alfândegas as quantias vencidas. A nomeação do Barão de Quintela será comunicada, por carta de 26 de Janeiro, aos Governadores das Capitanias da Baía, de Pernambuco e do Maranhão, e às respectivas Juntas de Fazenda. Este conjunto de disposições mostra que o fluxo de numerário não se dirigiu no sentido único Portugal-Brasil, e que do outro lado do Atlântico, por iniciativa do Príncipe Regente, foram consignadas, para auxílios às regiões que os invasores devastaram, verbas importantes provenientes dos rendimentos alfândegários.
Registemos este facto. Mas não construamos a partir dele a hipótese de relações económicas equilibradas. Não tiremos, da actividade legislativa e administrativa intensa, a conclusão de que a situação dos governantes metropolitanos, era forte, respeitada, pacífica. O general inglês Wíllíam Carr Beresford, convidado para comandar e reorganizar o exército, soube converter a sua função militar em função de governo, e quando, em 1816, visita o Rio de Janeiro, consegue que D. João VI lhe acresça a autoridade, alargue os poderes, reforce os meios. De 1816 a 1820 a situação económica degradou-se e o relacionamento entre os governantes portugueses e a autoridade de que se considerava investido o militar inglês atingiu um ponto crítico. Em 1817, a "Conspiração" de Gomes Freire de Andrade, é o afloramento, com um desenlace trágico, dos conflitos de poder, e do confronto entre o "partido da França" e o "partido da Inglaterra", da luta entre as três correntes: a dos puros conservadores; a dos liberais favoráveis a reformas que poderiam ser a iluminada graça de um soberano absoluto, dador, outorgante de liberdades; a dos partidários românticos de uma radical regeneração. A palavra e a ideia de regeneração, andavam no pensamento dos liberais portugueses e nas bocas do mundo nesses anos de 1817/1820. Não tinha sido Gomes Freire de Andrade venerável de uma loja maçónica designada "Regeneração"? Não tem nome de "Conselho Supremo Regenerador de Portugal, Brasil e Algarves" o organismo secreto que encabeçava a . Conspiração de 1817? "Portugal Regenerado" não é o título do livro de Borges Carneiro? O "Campo de Santo Ovídio" não viria a ser chamado "Campo da Regeneração"? Não é da "nossa feliz Regeneração" que fala nas Cortes Extraordinárias e Constituintes o deputado Manuel Fernandes Tomás? As palavras regeneração, regenerador, não as encontramos a matizar o discurso vintista ?
Cerca de dois meses e meio da acção revolucionária regeneradora, as "demonstrações de receita e despesa do real erário" apresentadas, pelos Governadores ao Rei, no ofício datado de 2 de Junho de 1820, dão-nos a dimensão e profundidade da crise. Os Governadores informavam D. João VI "com o maior respeito, mas com toda a franqueza". Descreviam a deficitária situação financeira e referiam: "1.º — ... que a despesa anual excede mais de cinco milhões de cruzados a receita; 2.º — que este alcance ha-de crescer todos os anos, não só porque o que paga mal compra cada vez mais caro, mas porque as rendas públicas vão descendo considerávelmente, e dos contratos que últimamente se puzeram em praça, uns foram arrematados por preços inferiores aos antecedentes, como o do tabaco que diminuiu 91.000$000 réis em cada ano, e outros ou não tiveram lanços, ou os tiveram tão baixos, que forçoso foi pô-los em administração, apesar do prejuizo que nisto há-de sentir a fazenda real; 3.º — que o desgraçado termo da continuação deste sistema há-de ser forçosamente uma bancarrota declarada; 4.º — que sendo sempre funestas as consequências de tamanha calamidade pública, é impossivel calcular até onde elas agora se poderão estender, reflectindo que a nação portuguesa, posto que seja a mais leal de todo o mundo, está contudo por extremo descontento com a ausência prolongada do seu soberano; está consternada pela importantissima perda de navios e cargas que lhe têm causado os insurgentes, vendo renovadas as desgraças da guerra no meio da mais profunda paz, que reina em toda a Europa, e da qual se esperava conseguir para o seu comércio a mesma segurança de que gozam as outras nações; está atenuada, quanto à extensão deste mesmo comércio desde que Portugal deixou de ser o entre posto dos géneros coloniais do Brasil; vê a agricultura arruinada, pelo baixo preço do grão estrangeiro, que tem inundado o reino, de que resulta o abandono da cultura que o lavrador não pode continuar sem perda e o consequente abatimento de todas as rendas, que consistem em frutos; 5.º — que o resultado de uma suspensão de pagamento seria ainda mais terrivel, a respeito de alguma classe de dividas, e principalmente quanto ao pret e soldos da tropa. A grande falta de meios que experimentamos tem feito que estes artigos se achem já em considerável atraso, o que justamente nos dá o maior cuidado, temendo os efeitos do descontentamento de um exército que já murmura e reclama para si a despesa, que o erário faz com o corpo que milita na América.".
Démos a palavra aos Governadores, para descreverem o quadro sombrio de uma crise profunda. Eles não escondem o "extremo descontentamento com a ausência prolongada do seu soberano", nem calam o "descontentamento de um exército que já nos murmura e reclama". É a crise financeira , a ruína da agricultura, a decadência do comércio. Os gastos militares excessivos, e as despesas da responsabilidade e pessoais de William Carr Beresford, feito Marquês de Campo Maior, e atribuindo-se dispendioso e faustoso estado, não deixam de ser sublinhados no ofício de 2 de Junho de 1820.
Os atritos com o militar inglês não eram ocultados ao soberano. A pressão dos interesses da burguesia comercial impelia os Governadores o solicitarem ao rei que "promova os interesses dos negociantes do reino unido, de sorte que tenham preferência sobre o comércio estrangeiro" e lembram ao monarca que "o comércio decaiu extraordinariamente, não só pela mencionada abertura dos portos do Brasil, que privou Portugal do comércio exclusivo com aquele reino, mas pela concorrência de todas as nações marítimas. Beresford exercia, a favor da Inglaterra, um protectorado ostensivo; a ausência de D. João VI, a Corte no Brasil tendo dado ocasião não só a deslocação de pessoas como a transferência de funções, os gastos com as forças militares nos dois reinos portugueses do Atlântico, a saída de rendas públicas e privadas, os prejuizos comerciais, convertiam Portugal numa área económica e, politicamente dependente, em colónia de uma colónia sua.
A Revolução de 24 de Agosto de 1820 reveste uma real complexidade: é anti-colonial (no duplo aspecto: contra a situação colonial em relação ao Brasil e contra a dependência da Inglaterra); é anti-feudal (no que respeita à libertação do mundo rural e porque atenta aos interesses da burguesia comercial); é democrática (pela afirmação dos direitos dos cidadãos e de um conceito democrático de soberania nacional)
No longo e contraditório processo da transição do "Antigo Regime" para o Portugal Liberal não constituirá a Revolução Vintista, uma rotura do sistema, um salto qualitativo ?
O jovem Garrett, no texto eufórico o "O Dia 24 de Agosto", escreveu: "De tudo o que tenho exposto, que inegável, devemos necessáriamente concluir — que o Governo de Portugal até ao dia 24 de Agosto era tirânico, despótico e injusto; e em consequência, que a nação portuguesa, desligada, pela falta de cumprimento, pelo desprezo das condições do seu contrato, do vinculo, da obrigação, tinha todo o direito de abolir um tal governo, de clamar pela sua liberdade, e restaurá-la." Manuel Fernandes Tomás, nas palavras finais e conclusivas do "Relatório lido nas sessões das Cortes Constituintes de 3 e 5 de Fevereiro de 1821, no termo da vigência do Governo de que tinha sido secretário dos Negócios do Reino, interrogava: "Quando um Governo, Senhores, trata os interesses dos povos pelo modo que tendes ouvido e que desgraçadamente é muito verdadeiro, fazendo ou consentindo que se façam males tão grandes, ninguém poderá deixar de confessar que ele é um Governo mau: e, em tal caso, seria bem admiravel que houvesse ainda quem se lembrasse de disputar à Nação o direito de escolher ou de fazer outro melhor". A consciência de que a Revolução punha termo a um Governo "tirânico, despótico e injusto e a vontade política de substituir "um Governo mau", de "escolher ou fazer outro melhor", embora proclamada num discurso ideológico de confusa retórica que misturava a crença na autenticidade da acta das Cortes de Lamego e a valorização da "aclamação de Ourique" — "Nos gloriosos campos de Ourique, o exército levanta a voz e aparece a monarquia..." perora o austero Manuel Fernandes Tomás —; aquela consciência e esta vontade política, impunham o conceito democrático de soberania nacional tal como se expressa no articulado da Constituição de 1822: Art.º 26 – "A soberania reside essencialmente em a Nação. Não pode porem ser exercitada senão pelos seus representantes legalmente eleitos. Nenhum indivíduo ou corporação exerce autoridade pública, que não se derive da mesma Nação"; Art.º 27 — "A Nação é livre e independente, e não pode ser património de ninguém. A ela somente pertence fazer pelos seus Deputados juntos em Cortes a sua Constituição, ou Lei Fundamental, sem dependência da sanção do Rei." No decurso da sua vigência as Cortes, na realidade, com em sede do poder, atribuem-se, nomeiam e mandatam o governo.
As citadas disposições constitucionais exprimem, em toda a sua extensão e radicalismo, o conceito democrático de soberania nacional, tal como se nos depara nos escritos e declarações dos mais representativos protagonistas do "vintismo". A batalha política irá travar-se no confronto entre as concepções subjacentes à Constituição e à Carta, entre soberania e direitos democraticamente assumidos e soberania e direitos outorgados por vontade magnânima do soberano. Para além do período de 1820 a 1834, nos fluxos e refluxos do setembrismo e do cantismo de Costa Cabral, a polémica prosseguirá. Será, contudo um facto adquirido, a institucionalização, a partir da Revolução Vintista, do sistema representativo liberal.
Oliveira Martins na "Advertência" da 1.ª edição do "Portugal Contemporâneo", do liberalismo se demarcando, escreveu. "Respirando uma atmosfera diversa, independente da influência de uma doutrina exclusiva, o autor, pode estudar despreocupadamente o velho e o novo regime, por isso que a data de 34 nem significa para ele uma ruína deplorável das instituições eternas, nem o estabelecimento de um sistema de verdade definitiva: apenas a passagem das fórmulas históricas e absolutistas para as fórmulas revolucionárias e individualistas". Recusando a "linha lógica" da "tradição de 20, — di-lo noutra página —Martins reconhecia que ao cabo do período de 1820-1834, se verificara a passagem das "fórmulas históricas e absolutistas" para as "fórmulas revolucionárias e individualistas". será o Vintismo, compreendido na globalidade da acção militar e da actividade das Cortes Constituintes, que representa a rotura, que realiza a passagem ?
António Sérgio, nas suas "Considerações Histórico-Pedagógicas", depois de reproduzir um texto severo de Herculano sobre a situação económica e social relativamente aos decénios em que "os diamantes e o oiro do Brasil vinham inundar Portugal de riquezas" — a expressão é de Herculano interrogava-se: "Até quando duraria este sistema? Até que o Brasil se perdesse. O Brasil perdeu-se com efeito; e então a sociedade a morrer de fome, careceu de um abalo catastrófico que se não viesse desferido pela ditadura de Mousinho (1832) viria mais hoje mais amanhã de qualquer maneira semelhante."
Independentemente deste surpreendente fatalismo histórico de um idealista crítico, apologista doo reformismo pedagógico e social, vemos que Sérgio segue a lição de Herculano, a narrativa de Oliveira Martins. Herculano Martins e Sérgio coincidindo na atribuíção a Mousinho da Silveira do exclusivo, da acção reformadora. Certo é que Oliveira Martins na "História de Portugal", ao abrir o capítulo sobre "1820", reconheceu: "Tornou-se moda, para muitos, escarnecer da revolução de 20, pela sua fraqueza, pelas suas ilusões, sobretudo pelo seu mau êxito". Mas sacrificará, à moda. Largamente abonado em Herculano ridiculizará a festa e as ilusões doutrinais da Regeneração vintista. Na apreciação negativa cinge-se ao que dissera Herculano: "Reuniram-se as Cortes. Fez-se uma constituição pouco mais ou menos republicana, mas inteiramente inadequada ao país. Repetiram-se, palavra por palavra, traduzidos em português, ou coisa semelhante, os discursos mais célebres do Choíx des rapports, ou as páginas mais excêntricas de Rousseau e de, Bentham. O povo espantava-se de, se achar tão grande, tão livre, tão rico, em direito teórico: porque na realidade, nos factos materiais, palpáveis da vida económica, as coisas estavam pouco mais ou menos na mesma."
Nas notas escritas com o expresso propósito de elucidar o seu amigo Fournier sobre "um dos homens mais notáveis da nossa época, como o homem mais notável, talvez, do nosso país", Alexandre Herculano retrata Mousinho, descreve a acção do estadista, exalta o significado político e social da sua obra: "porque — citamos — a revolução de Mousinho não foi só económica; foi também politica e social." Com Mousinho na admiração do historiador, como homem político revelando sentimentos, ergue-se a figura de D. Pedro: "Um era o pensamento, o outro o coração e o braço". Mousinho, no apaixonado elogio de Herculano era "a personificação de um grande facto social, de uma revolução que saíra da sua cabeça".
Um estudante da Faculdade de Letras do Convento de Jesus, o historiador Jorge Borges de Macedo, escreveu quando dava os primeiros passos da sua carreira de investigador: "Um dos mais frequentes erros de perspectiva é provocado pela existência de uma figura a que as crónicas ou os historiadores atribuíram, à guisa de explicação, tudo o que na época se menciona como digno de registo. Uma das consequências imediatas deste erro de perspectiva — que se reflecte na organização da investigação — é o simplificar o estudo do meio, da sociedade, da engrenagem administrativa, estrutura económica, etc.: sem necessidade de mais aprofundamento o grande homem explica... ". Escritas tendo à vista o Marquês de Pombal e a sua época, estas considerações não se ajustarão a Mousinho da Silveira e ao período túrbido da sua acção ?
António Sérgio fala-nos da "ditadura de Mousinho", atribui-lhe todo o mérito de reformismo liberal. Segue Herculano. E Herculano, apesar de, com boa dose de realismo, chamar a Mousinho de meteoro — ... porque ele foi um meteoro, que, tendo aparecido um momento nos horizontes políticos, quase imediatamente desapareceu..," — dos avanços para o liberalismo dizia: " ... os ensaios de governo representativo, entre nós, a nada tinham levado, porque os meios que se empregavam eram impotentes ou melhor ridículos". A Revolução, uma revolução liberal, preparada segundo Herculano nas sociedades secretas, que eclodira em 1820, pelo desenvolvimento do texto verifica-se que não nascera no cérebro privilegiado de José Xavier Mousinho da Silveira, mas, para o historiador, definia-se pela negativa: não havia ingleses no Exército, nem no Governo, nem o rei continuava a residir no Rio de Janeiro. Poderemos aceitar o resumo caricatural de Herculano? Terá sido só isso?
Chamado ao governo, Mousinho legislara com grande eficácia, empreendera frontalmente "a revolução política e a revolução económica". Deixemos para outra ocasião a referência ao sistema administrativo, sem esquecermos, claro, a forte contribuição de Almeida Garrett. Nos dois tomos, impressos na Typographia Maigrense, da Calçada de Santa Anna N.º 96, temos, para conhecimento e consulta, a "Colecção da Legislação Moderna Portuguesa — Da Instalação das Cortes Extraordinárias e Constituintes em Diante", um conjunto de diplomas e medidas que abrange o período de Janeiro de 1821 a 24 de Dezembro de 1822. Diplomas e medidas que têm sido desvalorizados, votados ao esquecimento. Todavia, perante a produção legislativa dos regeneradores vintistas, a originalidade — "uma revolução que saíra da sua cabeça" , escrevera Herculano nas notas redigidas para Fournier —, e o rasgo do estadista Mousinho da Silveira, ficam fortemente comprometidos. A comparação da produção legislativa das Cortes Constituintes, e de o ministro Mousinho da Silveira, nos Açores e no Porto, considerados os respectivos contextos conjunturais, merece um estudo particular. Na avaliação que faz das leis de Mousinho não ignora Herculano o ataque às raízes civis e eclesiásticas da sociedade senhorial, mas não reconhece que a contestação e as propostas liberais tinham surgido no quadro revolucionário Vint.... Oliveira Martins sempre hostil ao democratismo vintista, no entanto traçou um balanço objectivo: "As cortes Suprimiram a antiga legislação municipal, judicial e fiscal, aboliram as jurisdições senhoriais e eclesiásticas, criaram o júri para causas crimes e cíveis, substituíram as câmaras municipais por conselhos electivos, chamaram ao domínio público as propriedades das prelaturas, canonicatos e benefícios eclesiásticos, tributaram as rendas das corporações religiosas, extinguiram vários mosteiros, proibiram os votos, chamaram ao fundo nacional os bens da coroa e ordens, destinando-lhe o produto para amortização da dívida nacional." O depoimento do contemporâneo José Liberato Freire de Carvalho? no "Ensaio Histórico-Político sobre a Constituição e Governo de Portugal" a "Colecção de Legislação Moderna Portuguesa", e as Actas das Cortes, dão-nos uma irformação das reformas vintistas. Mas, aceitemos o balanço traçado por Oliveira Martins, e consideremos a conclusão do polígrafo: "Tudo isto, ou pouco mais ou menos isto, fez Mousinho da Silveira em 34: porque vingou depois, e não vingou em 1820? Por dois motivos. Agora, legislava-se: mais tarde houve uma espada para o impor, e uma vitória para o consagrar". Para Oliveira Martins: "uma espada". Para Alexandre Herculano: "um braço". Ambos sobrevalorizam Mousinho da Silveira e a força de intervenção que o apoia: "uma espada", "um braço", o poder, o êxito militar de D. Pedro. Traía-se, ou revelava-se, Oliveira Martins nesta admiração pela "espada" acutilante, pelo "braço" forte; é o reformador catedrático, o político cesarista, que escreveu essas páginas de raro brilho. Quadros inexcedíveis quanto à qualidade artística, porém de duvidoso valor histórico.
E Herculano?
"Burguês dos quatro costados, liberal ferrenho e proprietário, ainda que pequeno...", Herculano não é um democrata. Em 1949, escrevia Joaquim Barradas de Carvalho: "Nenhum dos autores que trataram o pensamento político de Herculano, procurou distinguir com suficiente nitidez, o liberalismo da democracia. Esta distinção parece-nos fundamental para uma inteira compreensão do seu pensamento político... Herculano afirmou-se sempre liberal, mas adversário irredutível da democracia...". As ideias caminham no tempo, vencem incompreensões e resistências. Trinta anos mais tarde, num volume editado em 1979, Luís de Oliveira Ramos corroboraria:" ... a divergência entre o liberalismo de Herculano e o pensamento democrático reveste o carácter de uma divergência de fundo". Num livro publicado em, 1983, António Borges Coelho iria mais longe na definição da ideologia do historiador — citamos: "O ideário político de Herculano é o liberal, isto é, não democrático, não absolutista, não socialista". Liberal apenas. Recordemos, de passo, que numa carta a Oliveira Martins, Herculano, depois de afirmar que nunca tnha lido, ou ouvido, "uma definição precisa e rigorosa de democracia", escreveu: "... a democracia repugna às nações ocidentais, da Europa educadas pelo catolicismo... "
Era adverso ao democratismo vintista. Não aceitava a Constituição de 1822. Nas páginas. que escreveu sobre Mousinho da Silveira, referindo-se a D. Pedro, diz : "Outorgou uma carta aos seus novos súbditos, carta que tinha sobre a constituição democrática de 1822 a superioridade incontestável de ser possível ... ". Por aqui, e profundamente, se distancia do Vintismo. Se o aspecto anti-colonial da Revolução não lhe repugnava, e se, no que diz respeito ao Brasil, considerava que, — citamos "libertando-se, estava no seu direito"; já a vertente anti-feudal do processo lhe merecia mais complexa reacção.
Para Herculano, como sabeis, a História de Portugal, compreende "dois grandes ciclos": "o primeiro é aquele em que a nação de constitui; o segundo, o da sua rápida decadência: o primeiro é da idade-média; o segundo, o do renascimento. "(in "Cartas sobre a História de Portugal"). E, interrogando os seus leitores escrevia: "O que são as revoluções políticas do nosso tempo? São um protesto contra o renascimento; uma rejeição da unidade absoluta; uma renovação das tentativas para organizar a variedade...". O processo de unificação dos Estados e de absolutização do poder "o grande princípio da unidade política chamado monarquia absoluta", descrevia-o Herculano, com as palavras que me permito recordar: "A monarquia derrubou gigantes; partiu em pedaços miúdos a escala imensa do privilégio. Verdade é que metade desses privilégios eram foros de liberdade, que pertencem a todos os homens... " E acrescentava: "Não consente o bom método que antecipe aqui o desenvolvimento das ideias que em resumo tenho apontado; por isso limitar-me-ei a só mais uma observação. O princípio da liberdade pertence incontestavelmente à idade-média... "
Mas os "foros de liberdade", os direitos foraleiros, as taxas concelhias, e, também, os privilégios senhoriais, essa "variedade" de condições e de situações que vinha da Idade-Média e subsistia, constituíam alvo de combate liberal, davam, razão e objecto à Revolução de 20, determinavam o seu carácter anti-feudal.
Não é o problema de ter existido, ou não feudalismo em Portugal, que se coloca a propósito de 1820. A questão é diferente: é a da caracterização da situação económica e social prevalecente. A palavra feudal, como se sabe, é utilizada no período vintista contra os argumentos e a autoridade de jurista de Manuel Fernandes Tomás. Surge em textos oficiais e no "Portugal Regenerado" de Borges Carneiro. Herculano emprega-a. O carácter anti-feudal do Vintismo a luta contra os privilégios dos donatários que suscita um vasto movimento de queixas e petições —, vai de par com a contestação dos direitos tradicionais dos concelhos.
Ao Herculano, historiador social da Idade Média, e não só investigador erudito, não teria sido alheia a compreensão, como assinalou António Borges Coelho, de que "a concessão da organização municipal não era mais que o reconhecimento de facto de vitória irresistível do movimento concelhio. Guiando-se pelo medianido e pelo coutamento do território municipal, considerou os concelhos verdadeiras repúblicas". Não se poderia exigir "ao velho mestre municipalista" — como lhe chamou José Mattoso — que ficasse indiferente à liquidação dessas "repúblicas". A pressão contra os forais não nasce do vintismo; este não é uma causa, uma consequência. Uma comissão para examinar os forais e estudar providências que incentivassem a produção agrícola, foi nomeada seu a 17 de Outubro de 1812, José Liberato Freire de Carvalho, no seu "Ensaio Histórico-político...", dando balanço às reformas do Vintismo, não deixa de mencionar: "...extinguiu os direitos chamados banaes; modificou um pouco o sistema ruinoso dos nossos antigos forais; ... " Adrien Balbi, no seu "Essai Statistique...", ao enumérar as causas da decadência da agricultura, refere os "odiosos forais". O texto de Adrien Balbi saiu impresso, em Paris no ano de 1822.
Mas não era só o problema da Agricultura, era, igualmente, o problema do Comércio. Os forais e os privilégios senhoriais, os espaços dominados por donatários e os espaços adstritos a direitos concelhios, contrariam os interesses e o desenvolvimento da burguesia comercial. Tem a data de 10 de Abril de 1822 uma representação da "Comissão do Comércio da Praça do Porto que solicita, ao "Soberano Congresso", "para ser abolido o Direito de Portagem". A Comissão vem apoiar um requerimento, "assinado pela maior parte dos Negociantes da dita Cidade" pedindo que, quando se tratasse da Reforma dos Forais, — "hum Imposto conhecido pelo nome de Portagem" fosse abolido. Argumenta a Comissão do Comércio da Praça do Porto citamos o texto: "A antiguidade do Imposto de que se trata, e cuja criação o Foral da cidade do Porto atribui à Sr.ª Rainha D. Tareja, bastaria para demonstrar que o Imposto é hoje impolítico... e a mesma antiguidade da instituição é a melhor prova da incerteza actual dos limites do terreno afectado, das excepções contratadas, e do método da cobrança: mas é certo que, apesar de tantas incertezas e tantas dúvidas quantas são as que com toda a justiça podem suscitar-se, existe e cobra-se o Imposto..,". A Comissão do Comércio do Porto considerava os impostos de portagem e passagem, mais "odiosos" a palavra que empregam e é esse o adjectivo que Adrien Balbi utiliza do que a redizima que também reputavam de injusta. Eram disposições, usos ou costumes que, tendo origem nas eras do começo da Monarquia, já não são compatíveis com o estado actual das luzes da Economia Política do presente século..." — reclamavam os negociantes do Porto. Para os negociantes, interessados em aliviar de encargos as fazendas que mandavam para "o interior", o Foral fora "parte das ideias Senhoriais e erróneas, daqueles tão atrasados tempos". Multiplicar exemplos e citações? Não será necessário. Seria excedentário, talvez, para a apresentação da questão de fundo: a burguesia comercial, contestando os privilégios dos donatários e os direitos instituídos pelos forais, tem como objectivo a conquista de um espaço económico que lhe consinta e proporcione o crescimento, espaço económico tem o nome de mercado nacional.
Pierre Vilar, o autor desse monumento de investigação e saber históricos que é "La Catalogne dans l'Espagne Moderne", afirmou: "O mercado é a primeira escola onde a burguesia aprende o nacionalismo".
Revolução democrática constitucionalista, anti-colonial (em sentido limitado), anti-feudal (em sentido inteiro), a Revolução Vintista não terá sido, também, uma revolução nacionalista.
Concluímos, perguntando.
Tínhamos por costume terminar as aulas com as palavras: no próximo dia continuamos. Desta vez não continuaremos. Fica o encontro adiado... sine die.

30 de Junho de 1988